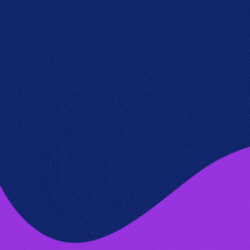Sandra Durães, service manager na Logista Pharma, reflete sobre os riscos operacionais associados ao transporte aéreo de medicamentos para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tendo em consideração as disrupções que acontecem no Aeroporto de Lisboa. Analisa as responsabilidades ao longo da cadeia logística, o impacto no controlo de temperatura, e no fim, questiona se o atual modelo está preparado para tratar o medicamento como carga crítica.
As notícias das últimas semanas/meses sobre a confusão operacional no Aeroporto de Lisboa voltam a expor fragilidades que muitos, no setor da logística farmacêutica, conhecem bem, mas que raramente são discutidas de forma aberta.
Para os operadores logísticos, a realidade parece-me clara: os envios via aérea para a Madeira e os Açores dependem fortemente de terceiros, e quando o que está em causa são medicamentos, essa dependência deixa de ser apenas operacional e passa a ter impacto potencial em terapêuticas, hospitais e doentes.
A cadeia é longa e sensível: começando na produção, passando pelos operadores logísticos, de seguida para os transitários, depois pelo handling aeroportuário e, posteriormente, alfândega. A seguir é o voo, chega ao aeroporto de destino, passa novamente pela alfândega, handling, e, depois, last mile. O último passo é o destino final, não esquecendo, pelo meio, a própria gestão do aeroporto.
Quanto mais longa a cadeia, maior a diluição da accountability. E quanto maior o volume de mercadoria concentrada no aeroporto, maior é a probabilidade de atrasos, acumulações em placa e, consequentemente, de a carga ficar exposta à chuva, ao sol e a variações térmicas significativas.
O risco não surge apenas no transporte aéreo em si, mas sobretudo nos momentos de espera, quando o fluxo operacional entra em rutura. No continente, levamos à risca o controlo de temperatura em todas as etapas da distribuição. Mas para as ilhas, esse controlo deixa de existir assim que os volumes são deixados no aeroporto.
A resposta passa, muitas vezes, pelo recurso a caixas com temperatura controlada/validadas — eficazes, mas caras, com tempo de utilização limitado e que funcionam mais como mitigação de risco do que como resposta estrutural.
Porque não pensar o controlo de temperatura de forma contínua, desde as instalações aeroportuárias, durante a viagem aérea, até à distribuição last mile nos destinos insulares, sem depender exclusivamente de soluções passivas ou ativas de alto custo? Podemos pensar, mas a verdade é que esta responsabilidade está dividida por vários intervenientes, e não parece existir um modelo integrado. Todos são peças essenciais. Todos os stakeholders têm o seu papel. Mas o sistema, no seu conjunto, não foi desenhado com o medicamento no centro. E este é o verdadeiro problema.
Importa reconhecer que entidades como o INFARMED atuam dentro do seu âmbito regulatório e, por isso, a forma como os produtos ficam expostos em espaços aeroportuários ou a bordo de aeronaves, fica fora da sua esfera direta de atuação.
O desafio parece residir, assim, menos na regulação do produto e mais na infraestrutura e no modelo operativo onde ele circula. Um espaço crítico para a saúde, mas fora do core do setor farmacêutico.
Talvez a mudança só aconteça quando houver uma redefinição clara de quem e como opera o aeroporto e quando forem estabelecidos fluxos distintos para carga crítica.
Até lá, continuaremos a gerir exceções, a improvisar soluções e, demasiadas vezes, a depender da sorte. E quando falamos de medicamentos, confiar na sorte nunca deveria ser uma opção. Estará o setor preparado para esta conversa?
Sandra Durães, Service Manager Portugal na Logista Pharma | Professora Convidada na Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE), IPS.